por Adrian Walker
Os pobres, Jesus disse notoriamente, sempre estarão conosco. Os seguidores de Jesus têm sido frequentemente acusados de usar mal essas palavras de seu Mestre como uma desculpa para ignorar as causas sistêmicas da pobreza. Os cristãos, diz a acusação, pregaram a benevolência privada como um substituto para a tarefa mais árdua e corajosa de lutar para mudar as estruturas econômicas injustas que são responsáveis pela pobreza em primeiro lugar. Entre as muitas respostas cristãs a esta acusação frequentemente ouvida, duas mais recentes são particularmente dignas de nota. A primeira, representada por algumas escolas de teologia da libertação latino-americana, tenta envolver a Igreja em uma luta de inspiração socialista por uma sociedade mais justa. O principal inimigo na luta é o capitalismo, cuja natureza supostamente exploradora esta corrente da teologia da libertação ataca como a causa raiz da pobreza.
Para uma economia da dádiva
Rejeitando o anticapitalismo dos teólogos da libertação, os expoentes da segunda resposta apontam o histórico sombrio do socialismo de ruína econômica e repressão da liberdade individual. Essa segunda resposta, mais conhecida pelos escritos de “neoconservadores” como Michael Novak, não está menos preocupada em atacar as raízes sistêmicas da pobreza do que a teologia da libertação. Mas, ao contrário dos liberacionistas, os neoconservadores insistem que o livre mercado capitalista, e não a economia socialista planificada centralmente, detém a chave para erradicar a pobreza sem violar a liberdade individual. Somente o livre mercado, argumentam os neoconservadores, demonstrou a capacidade de elevar a sociedade a níveis sem precedentes de prosperidade material e, ao mesmo tempo, criar garantias e oportunidades sem precedentes para a expressão da liberdade individual.
Não precisamos olhar além de nossas próprias fronteiras para ver que a proposta neoconservadora destaca verdades importantes. Nosso próprio sistema de bem-estar, por exemplo, acabou sendo um fracasso colossal. Significativamente, uma das principais razões para este fracasso tem sido a política de redistribuir a riqueza de agentes econômicos responsáveis sem esperar e permitir que os beneficiários dessa redistribuição se tornem agentes econômicos responsáveis por direito próprio. Tal política é injusta, não apenas para aqueles que já são agentes econômicos responsáveis, mas também, e mais ainda, para aqueles a quem a ética redistribucionista, por toda a sua tão alardeada “compaixão”, trata essencialmente como objetos de beneficência e não de como sujeitos (potenciais) da própria agência econômica responsável. Ou seja, o sistema previdenciário falhou porque não tratou os pobres como pessoas humanas dotadas de uma dignidade inata a ser desenvolvida e expressa também na esfera econômica.[1]
Os neoconservadores estão, portanto, certos em insistir que uma economia sólida deve dar amplo escopo à auto-expressão da dignidade humana por meio da criatividade econômica. Eles também têm razão em afirmar que a liberdade econômica é condição sine qua non dessa criatividade. Não menos autoridade do que João Paulo II o disse em sua encíclica social Centesimus Annus (1991). No entanto, os neoconservadores erram ao supor que o que chamarei de “economia liberal” é o melhor contexto para entender o que é a liberdade econômica. Por “economia liberal”, quero dizer a teoria, voltando em todos os aspectos essenciais a Adam Smith, segundo a qual o mercado sozinho organiza a vida econômica da sociedade, não através do comando do poder coercitivo do Estado, mas pela maximização da liberdade dos indivíduos. para entrar em trocas contratuais informadas e mutuamente benéficas para fins econômicos específicos decididos por “interesse próprio”. Milton Friedman dá uma expressão eloquente a esta afirmação:
O problema básico da organização social é como coordenar as atividades econômicas de um grande número de pessoas. Nas sociedades avançadas, a escala em que a coordenação é necessária para aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela ciência e tecnologia modernas é enormemente maior. Literalmente milhões de pessoas estão envolvidas em prover umas às outras com seu pão diário, sem falar em seus automóveis anuais. O desafio para o crente na liberdade é reconciliar essa interdependência generalizada com a liberdade individual. Fundamentalmente, existem apenas duas maneiras de coordenar as atividades econômicas de milhões. Uma é a direção central envolvendo o uso da coerção – a técnica do exército e do estado totalitário moderno. A outra é a cooperação voluntária de indivíduos – a técnica do mercado.
Agora, meu propósito ao criticar a noção liberal do que o historiador econômico Karl Polanyi chama de “mercado autorregulado”[3] não é defender a imposição de uma economia planejada pelo Estado em seu lugar.[4] Tampouco é negar de forma alguma que a livre troca econômica seja uma condição necessária (embora não suficiente) de uma economia saudável e viável. É antes sugerir que a economia liberal apresenta um modelo ruim do que é a própria troca econômica livre. Essa afirmação pode surpreender alguns, especialmente os economistas liberais, que estão acostumados a se ver fornecendo uma descrição “científica” imparcial de como a economia realmente funciona, em vez de dispensar uma ideologia sobre a liberdade humana. No entanto, a ideologia é exatamente o que está em jogo aqui.[5]
Vemos uma expressão central disso na afirmação – exposta vigorosamente por Milton Friedman na passagem citada acima – de que a liberdade econômica consiste principalmente na liberdade dos indivíduos de entrar em trocas contratuais mutuamente benéficas. Essa alegação, que pode parecer inocente à primeira vista, acaba, em um exame mais minucioso, implicar que a liberdade econômica (supostamente) proporcionada pelo mercado é indiferente ao bem objetivo da pessoa. Mas, como argumentarei a seguir, uma liberdade indiferente ao bem objetivo da pessoa é, na verdade, uma falta de liberdade que leva a uma ordem social coercitiva. Que assim seja não significa que devamos acabar com a troca contratual, mas sim que, apesar da insistência do liberalismo em contrário, a troca contratual não pode ser o paradigma primário da liberdade econômica sem ipso facto minando a própria liberdade econômica da qual o liberalismo (erroneamente) se orgulha de ser a única garantia entre os sistemas econômicos.[6]
Em vez de entregar a liberdade econômica tout court, a economia liberal oferece uma certa forma liberal de liberdade econômica – uma que, como veremos a seguir, é na verdade uma não-liberdade. Um dos estratagemas pelos quais o liberalismo oculta esse fato é sua afirmação de que o mercado é neutro, o que significa que ele deixa em aberto a questão do bem objetivo da pessoa para, assim, permitir que pessoas com diferentes visões de mundo cooperem sem primeiro tendo que harmonizar suas respectivas convicções sobre aquele bem. Note-se, no entanto, que essa chamada “neutralidade” nada mais é do que uma reformulação da afirmação de que as trocas contratuais voluntárias são essencialmente indiferentes ao bem objetivo da pessoa, e que tais trocas contratuais indiferentes constituem o paradigma da liberdade econômica. É claro, os economistas liberais sem dúvida contestariam que o mercado deve ser “neutro” nesse sentido para proteger os atores econômicos individuais da coerção do Estado. Infelizmente, esta resposta levanta precisamente a questão que está em questão: a liberdade é realmente melhor servida por um agnosticismo sobre o bem objetivo da pessoa (disfarçado de leis impessoais do mercado)? A resposta, argumentarei, deve ser um decisivo “não”.[7]
A afirmação de que o mercado é neutro em relação à questão do bem objetivo da pessoa nada mais é do que uma cobertura para a imposição do liberalismo de um paradigma definido e decididamente liberal de liberdade econômica. É importante ver, no entanto, que a rejeição desse paradigma não implica necessariamente uma rejeição absoluta da ideia de livre mercado. Se, de fato, por “livre mercado” queremos dizer simplesmente “livres trocas econômicas”, então devemos reconhecer que um livre mercado é desejável e, de fato, praticamente necessário. Qualquer sistema econômico, como o da antiga União Soviética, que tente orquestrar as trocas econômicas de fora usando o poder coercitivo do Estado está condenado a pecar tanto contra a dignidade da pessoa humana quanto contra as exigências da boa economia. É neste sentido, parece-me, Centesimus Annus. O problema, no entanto, é que o liberalismo significa algo muito diferente e muito mais duvidoso do que apenas “livre troca econômica” quando fala de “livre mercado”. Quando o liberalismo usa as palavras “livre mercado”, o que na verdade está dizendo é que a troca contratual entre indivíduos auto-interessados, vista como indiferente em sua estrutura ao bem objetivo da pessoa, é o paradigma primário, se não exclusivo, da economia econômica. vida. É essa compreensão do livre mercado, não a ideia de “livre troca econômica”, que irei criticar. Ao mesmo tempo, estarei argumentando que o melhor e mais central paradigma para entender a livre troca econômica não é o contrato entre estranhos interessados em si mesmo, mas a oferta de presentes entre vizinhos. Como as economias de mercado atuais são amplamente liberais, a mudança de paradigma que estou recomendando implicaria em uma profunda reavaliação de muitas práticas e estruturas econômicas familiares que comumente damos como certas. Embora esse repensar ponha em causa muitas certezas confortáveis, não é necessariamente violento ou utópico. Ao contrário, o paradigma de dar presentes pode conter tudo o que há de valor na compreensão liberal do mercado, mesmo reconfigurando profundamente a lógica deste último em um contexto não liberal. Essa reconfiguração é necessária tanto para proteger a liberdade humana quanto para assegurar o bom senso econômico – um duplo desiderato que a economia liberal, se aplicada de forma consistente, não pode cumprir. Embora esse repensar ponha em causa muitas certezas confortáveis, não é necessariamente violento ou utópico. Ao contrário, o paradigma de dar presentes pode conter tudo o que há de valor na compreensão liberal do mercado, mesmo reconfigurando profundamente a lógica deste último em um contexto não liberal. Essa reconfiguração é necessária tanto para proteger a liberdade humana quanto para assegurar o bom senso econômico – um duplo desiderato que a economia liberal, se aplicada de forma consistente, não pode cumprir. Embora esse repensar ponha em causa muitas certezas confortáveis, não é necessariamente violento ou utópico. Ao contrário, o paradigma do presentear pode conter tudo o que há de valor na compreensão liberal do mercado, mesmo reconfigurando profundamente a lógica deste último em um contexto não liberal. Essa reconfiguração é necessária tanto para proteger a liberdade humana quanto para assegurar o bom senso econômico – um duplo desiderato que a economia liberal, se aplicada de forma consistente, não pode cumprir.
De volta aos neoconservadores
Antes de mostrar por que a economia liberal não pode cumprir o duplo desiderato de garantir a liberdade humana e colocar em prática uma racionalidade econômica sólida, devo tratar brevemente de uma possível objeção de que é injusto para os neoconservadores acusá-los de confiar demais na economia liberal . Essa objeção é significativa. Se, de fato, eu estiver errado sobre os neoconservadores, então a necessidade de uma mudança de paradigma para uma economia da dádiva parecerá menos convincente. E os neoconservadores? Será que eles, talvez, tenham elaborado um repensar viável da economia liberal que já faz o que quero argumentar que uma economia da dádiva faria?
A primeira coisa que se deve dizer é que, na medida em que são cristãos, os neoconservadores dificilmente podem abraçar sem reservas a insistência da economia liberal no agnosticismo do mercado sobre o bem objetivo da pessoa. Ou assim parece. Por exemplo, Michael Novak – no que segue me limitarei a Novak, talvez o mais influente porta-voz da posição neoconservadora – distingue nitidamente entre a instituição do mercado e a ideologia liberal que alguns trariam para ele. Na visão de Novak, o mercado, como instituição, não carrega nenhuma bagagem ideológica questionável, pela simples razão de que, como instituição, é apenas um fórum para trocas econômicas livres – nada mais, nada menos. Ao mesmo tempo, Novak insiste que a instituição do mercado não existe em abstração, mas está sempre embutido em uma estrutura moral-cultural maior que a sustenta.[8] Visto desse ponto de vista, argumenta Novak, o mercado é um empreendimento altamente moral que requer um ethos distinto – um ethos que pode florescer em última análise apenas no contexto do que Novak chama de “judaico-cristianismo”. Novak até afirma, especialmente em seus escritos posteriores, que o “judaico-cristianismo” não apenas (exclusivamente) promove o ethos capitalista, mas na verdade ajudou a criá-lo em primeiro lugar.[9]
Novak parece, assim, limitar o alcance do agnosticismo público sobre o bem objetivo da pessoa que alguns liberais reivindicariam para o mercado. Ele parece não ser defensor do que o colega neoconservador Richard John Neuhaus famosamente criticou como a “praça pública nua” do establishment secular contemporâneo. No final, porém, a distinção de Novak entre instituições liberais – neste caso, o mercado – e ideologia liberal é apenas outra versão da afirmação de neutralidade liberal. Quando Novak distingue o livre mercado da ideologia liberal, ele negocia com a mesma ambiguidade no termo “livre mercado” analisado acima. Ele está confundindo a troca econômica livre tout court com a livre troca econômica como a economia liberal entende a noção. Sua própria distinção entre a instituição do mercado e a ideologia liberal acaba sendo uma forma da própria ideologia liberal. Da mesma forma, Novak concede injustamente ao paradigma liberal de liberdade econômica uma hegemonia que exclui, sem argumentos, qualquer paradigma alternativo – como o de dar presentes entre vizinhos – que possa desafiar razoavelmente os direitos exclusivos que ele concede ao liberal.
O paradigma primário da livre troca econômica permanece, tanto para Novak quanto para a economia liberal, a troca contratual entre estranhos interessados em si mesmos, vistos como formal ou estruturalmente indiferentes em relação ao bem objetivo da pessoa. É isso que Novak entende por instituição do mercado. Assim, quando ele distingue o mercado como instituição da “ideologia liberal”, está obscurecendo o fato de que o que ele entende por mercado como instituição já está carregado de uma ideologia liberal que favorece a troca contratual entre estranhos interessados, a troca contratual. formalmente indiferente ao bem objetivo da pessoa, como paradigma primordial da liberdade econômica. Obviamente, Novak difere de muitos liberais clássicos na medida em que insiste que a liberdade econômica, assim entendida, deve ser temperado por um ethos moral moldado dentro (idealmente) de preocupações religiosas “judaico-cristãs”. Mas o que essa insistência realmente significa é que Novak pensa que os cristãos devem ter objeções à economia liberal apenas quando e na medida em que os agentes econômicos individuais abusam da liberdade econômica que o mercado supostamente oferece. A solução de Novak? Deixe intacta a compreensão liberal da liberdade econômica e adicione uma disciplina moral de fora. Infelizmente, Novak levanta a questão de saber se a compreensão do liberalismo da liberdade econômica é realmente capaz de receber, sem distorção, os requisitos da moralidade “judaico-cristã”. E essa petição de princípio reflete um problema ainda mais profundo com a proposta de Novak:
Apesar das próprias intenções de Novak, então, a lógica de sua proposta, em última análise, permanece liberal demais em muitos lugares cruciais para permitir que o Evangelho entre na esfera econômica em sua integridade. Da mesma forma, não convence como argumento que o mercado, como Novak o entende, é o melhor veículo para a missão cristã enfrentar a pobreza em nível social. Vamos entender essa falha corretamente. O argumento de Novak não é convincente, não simplesmente porque ele não conseguiu dar uma explicação adequada do livre mercado. Não, não é convincente principalmente porque assume que o que o “livre mercado” significa concretamente na tradição liberal – o que significa concretamente nas economias capitalistas atuais – é essencialmente não problemático para os cristãos, ao invés de algo cuja lógica precisa ser fundamentalmente repensada à luz do Evangelho e na direção de uma economia do dom. Novak transforma as “boas novas” de que Cristo veio pregar aos pobres em um tributário da economia liberal.
Agora, a domesticação involuntária do Evangelho por Novak a serviço do ethos econômico liberal não viola simplesmente os direitos do cristianismo. Quando Novak torna o Evangelho publicamente inofensivo, ele reforça uma lógica – uma lógica liberal – de organização econômica que é desumana e, de fato, em última análise, impraticável mesmo em seus próprios termos. Desnecessário dizer que uma economia desumana e disfuncional não é de forma alguma a “boa notícia” para os pobres que Novak afirma ser o capitalismo democrático. Isso ocorre porque a economia não é o domínio da técnica neutra, mas uma extensão da comunidade humana básica – e porque, em última análise, não podemos entender o homem separado de Jesus Cristo, o único que revela plenamente o mistério do homem “para si mesmo” ( Gaudium et Spes, seção 22) e assim desvenda o significado mais profundo da atividade mundana do homem (incluindo a atividade econômica) precisamente como mundana.
O fracasso do neoconservadorismo em batizar a economia liberal – na verdade, sua “liberalização” do Evangelho – confirma indiretamente minha tese inicial de que o paradigma primário da liberdade econômica, se é para refletir as exigências do bem objetivo da pessoa como este é revelado na revelação do homem de Jesus Cristo a si mesmo, não pode ser a troca contratual entre estranhos interessados em si mesmo, mas deve ser a doação entre vizinhos – e que somente esse paradigma nos permite chegar às causas sistêmicas da pobreza. Tal, de qualquer forma, é a afirmação do presente ensaio. Obviamente, essa afirmação deve levar em conta duas objeções que parecem questionar a própria conveniência e possibilidade de uma economia da dádiva: tal economia não implica a supressão da liberdade econômica? E não é de qualquer forma economicamente impraticável, para não dizer francamente utópico? O ensaio tentará então virar essas objeções de cabeça para baixo, mostrando que, por mais estranho que possa parecer, é na verdade a economia liberal que, se aplicada de forma consistente, leva à coerção e à disfunção econômica. Esse argumento nos dará a chave para responder, na penúltima seção do ensaio, à acusação de que a proposta de uma economia da dádiva é “irrealista”. Finalmente, a conclusão enumera duas condições básicas para o desenvolvimento de uma economia da dádiva. Neste contexto, argumentarei que a “pobreza de espírito” dos Evangelhos – a radicalização da atitude de receber com gratidão que está no centro da economia do dom – é o único contexto adequado para a missão cristã trazer o bem notícias aos pobres e, de fato, para a descoberta dos princípios de uma vida verdadeiramente humana,
A ordem iliberal do liberalismo
Muito do entusiasmo que os neoconservadores têm gerado entre os cristãos deve-se à sua promessa de superar a cisão entre o Evangelho e a cultura que tem atormentado o cristianismo moderno, especialmente desde o Iluminismo. Os neoconservadores asseguram aos cristãos que a forma dominante de modernidade, o capitalismo democrático anglo-americano, embora não seja simplesmente uma extensão do cristianismo, é, ou pelo menos pode ser, consistente com o cristianismo. Em particular, os neoconservadores argumentam que o mercado não precisa, de fato, não pode ser o domínio do homo economicus, a calculadora de lucros e perdas da ideologia liberal, mas deve ser entendida como o lar da pessoa que Deus criou à sua própria imagem. Chegam mesmo a dizer que o mercado é a melhor expressão, na esfera especificamente econômica, da dignidade da pessoa humana revelada por Deus em Jesus Cristo. Infelizmente, esta alegação não pode resistir sob escrutínio. Pois, como vimos, o que os neoconservadores entendem por “mercado” é, em essência, o que o liberalismo entende por “mercado”: uma estrutura de troca contratual indiferente ao bem objetivo da pessoa. Embora essa indiferença seja chamada de “neutralidade” (no sentido de imparcialidade), não é realmente neutra, mas implica, sob o pretexto de “neutralidade, ” essa troca contratual voluntária indiferente ao bem objetivo da pessoa é o paradigma da liberdade econômica. Consideremos agora como essa noção de liberdade econômica realmente substitui o bem autêntico da pessoa por um substituto profundamente restritivo da liberdade humana.
Para entender essa substituição, primeiro precisamos ter uma noção do que é o bem objetivo da pessoa. Em termos de conteúdo, o bem objetivo da pessoa nada mais é do que a própria pessoa. No entanto, o bem objetivo da pessoa acrescenta uma formalidade distinta, um ponto de vista especial. Este ponto de vista especial é constituído pelo fato de que a pessoa é um dom para si mesmo dado por um Criador amoroso.[11] O bem objetivo da pessoa é idêntico à pessoa – como um dom para si mesma. É esse caráter-dom que justifica falarmos de uma objetividade na relação da pessoa consigo mesma como seu próprio bem. Porque ele é um dom para si mesmo, a pessoa encontra inscrita em seu ser uma ordenação objetiva – uma ordenação para se dar como dom dentro do movimento de doação de Deus. Esta ordenação define a direção fundamental da liberdade de uma pessoa. Inclui sua subjetividade, mas não é simplesmente redutível a ela. É crucial ver, no entanto, que a objetividade irredutível da ordenação ao dom não diminui a liberdade, mas, ao contrário, torna a liberdade em primeiro lugar. Se, de fato, não houvesse dimensão objetiva em sua personalidade, a pessoa não seria capaz de transcender a si mesma. Essa incapacidade de transcendência o privaria, por sua vez, de sua própria subjetividade e, portanto, de sua liberdade. A verdadeira subjetividade, de fato, não consiste em uma interioridade fechada em si mesma, privada, mas na capacidade de comunhão.[12] É na comunhão, como rede de dar e receber recíprocos, que a pessoa cumpre sua ordenação de doação e assim se apodera de sua liberdade como ela é, ou seja, como presente.[13] Acabamos de dizer que a economia liberal substitui o bem objetivo da pessoa por uma imitação que restringe toda a amplitude da autêntica liberdade humana. Podemos agora acrescentar que essa substituição começa quando a comunhão que acabamos de descrever dá lugar ao contrato entre estranhos interesseiros como a instância primária da liberdade (econômica). Como o liberalismo o concebe, o contrato não é ordenado como tal ao bem objetivo da pessoa humana. É claro que a economia liberal afirma que essa não ordenação não é uma negação do bem, mas simplesmente um mecanismo para deixar a liberdade aberta para abraçar o bem. Note-se, porém, que o contrato, embora não ordenado ao bem objetivo como tal, tem uma finalidade própria: a satisfação mútua do interesse próprio na forma de ganho financeiro. Por isso, ao mesmo tempo que pretende deixar a liberdade aberta ao bem objetivo da pessoa, a economia liberal a pondera sub-repticiamente na direção do interesse próprio entendido como ganho financeiro. A passagem da comunhão para o contrato efetivamente coloca o ganho financeiro no lugar do bem objetivo da pessoa como finalidade imanente da troca econômica.
Admitidamente, alguns economistas liberais afirmam que o termo “interesse próprio” é simplesmente uma abrangência para o que quer que seja que se valorize.[14] Note-se, porém, que, quando se trata de câmbio de mercado, o critério decisivo para determinar se deve ou não celebrar determinado contrato não é simplesmente o “valor”, mas uma expectativa razoável de lucro financeiro. Isso sugere que, para os propósitos especificamente econômicos do mercado como a economia liberal o entende, o conteúdo de valor finalmente relevante do julgamento de qualquer indivíduo sobre o que é melhor para si mesmo deve ser o motivo do lucro. Assim, embora o liberalismo afirme que o interesse próprio significa o que quer que se valorize ou escolha, ele realmente significa apenas um tipo de valor e escolha: um ganho financeiro ao qual qualquer outro valor é, no final, irrelevante ou subordinado.[15]
Mesmo na leitura mais benigna, então, a economia liberal impõe um certo ideal de liberdade – um ideal acorrentado ao imperativo de buscar o ganho financeiro acima de tudo. Em uma palavra, a lógica interna da economia liberal inevitavelmente gera o homo economicus , o homem incapaz de agir por qualquer motivo que não seja o ganho financeiro – pelo menos no mercado.[16] Mas e os outros domínios da sociedade? Eles permanecem intocados? E quanto à minha afirmação inicial de que a economia liberal impõe a falta de liberdade do homem econômico à sociedade como um todo?
Bem, o homo economicus é uma criatura voraz. Como o Dr. Jekyll na famosa história de Stevenson, ele tende a reclamar cada vez mais de seu anfitrião, que assim cada vez mais pensa em si mesmo espontaneamente como uma calculadora "racional" de lucros e perdas, mesmo fora do mercado. Felizmente, o puro homo economicus é uma impossibilidade. Os seres humanos que vivem e respiram são sempre melhores — geralmente muito melhores — do que o homem econômico. Os neoconservadores, como muitos economistas liberais antes deles, confiam nessa bondade mais ampla e “espontânea” dos seres humanos para neutralizar o efeito solvente do mercado sobre a moralidade e a religião. O que os neoconservadores perdem, infelizmente, é que a antropologia implicada na neutralidade que eles reivindicam para o mercado – uma antropologia do homo economicus— canibaliza as fontes de onde flui essa bondade. Enquanto permanecerem liberais no ponto de neutralidade do mercado, os neoconservadores deixam a sociedade indefesa diante da disseminação implacável do homo economicus . Por quê? Porque a chamada neutralidade significa realmente que uma troca contratual indiferente ao bem objetivo da pessoa foi consagrada como o paradigma da liberdade econômica. Mas se a liberdade pode prescindir do bem objetivo em um domínio, então, em princípio, pode dispensá-lo em todos os domínios. Onde quer que o mercado seja “neutro”, o homo economicus está ocupado trabalhando refazendo a sociedade à sua própria imagem.
Por ser projetado apenas para o homem econômico, mas não reconhecer que seja o caso, o mercado liberal já é coercitivo apenas por ser o que é: uma preferência inconfessada por um ator econômico ideal que não pode buscar nada além do lucro como o maior Boa. No entanto, não coage apenas dessa maneira. Como a economia liberal está saturada de ideologia, ela é artificial demais para triunfar e manter sua predominância sem o apoio de uma instituição poderosa para apoiar o programa liberal. A única instituição mais adequada para o papel é, obviamente, o Estado-nação moderno, que de fato é uma faceta da ordem liberal. O estado liberal e a economia liberal andam de mãos dadas. O que a economia liberal entende por “livre mercado”, na verdade, é um mercado nacional unificado e translocal, cuja criação e manutenção são impossíveis sem o apoio do Estado.[17] Em The Great Transformation, Karl Polanyi documenta brilhantemente esse fato de várias maneiras, inclusive por meio de uma discussão instrutiva do triunfo original da economia de mercado na Inglaterra do século XIX,[18] que, mostra Polanyi, foi resultado de uma intervenção estatal maciça. Mais uma vez, então, os neoconservadores estão certos em certo sentido: o mercado liberal é parte de uma estrutura tripartite que inclui também o Estado e a cultura. O problema, no entanto, é que essa estrutura tríplice é, em última análise, liberal, na qual o Estado lança seu poder por trás da expansão de uma cultura liberal por meio do mercado. Ironicamente, então, os economistas muito liberais que rotineiramente levantam o espectro da economia centralmente planejada para afastar as críticas sistêmicas acabam (se atendermos à lógica de sua posição) estar defendendo a mobilização do poder coercitivo do Estado. por trás da criação de um certo tipo de economia - uma na qual apenas um certo tipo de liberdade, que é, na realidade, uma não-liberdade, pode florescer.
A pobreza da economia liberal
O resultado de nossa discussão até agora é que a economia liberal é uma construção ideologicamente carregada de uma economia ideal – isto é, ideal para um certo tipo de liberdade que, no final, só poderia pertencer a um homo economicus não livre . A tarefa diante de nós agora é mostrar como o mesmo mecanismo que leva à falta de liberdade também leva à disfunção econômica, ou à pobreza da economia liberal.
O bem objetivo da pessoa, como vimos, nada mais é do que a própria pessoa, vista como um dom a si mesmo dado por um Criador amoroso. Podemos agora acrescentar que esse bem objetivo conota um valor ou, se preferir, uma riqueza. Afirmada como sendo pelo generoso dom criativo de Deus, a pessoa tem, ou melhor, é uma riqueza - não uma riqueza de riquezas externas, mas uma riqueza que é interna a ela apenas na medida em que ela é em primeiro lugar. Porque o próprio ser da pessoa é uma riqueza, anterior a qualquer ação produtiva de sua parte, podemos chamá-la de “riqueza ontológica”. “Ontológico”, neste contexto, significa simplesmente “pertencente ao ser da pessoa”, de modo que “riqueza ontológica” significa, mais uma vez, a riqueza interior que caracteriza o próprio ser ou existência da pessoa como um dom para si mesma. Além disso, assim como a pessoa se apodera de seu bem objetivo como pessoa em comunhão, também aqui ela entra na posse e gozo de sua riqueza ontológica dentro de uma comunhão que consiste em dar e receber mútuos no amor. É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] aqui também ele entra na posse e gozo de sua riqueza ontológica dentro de uma comunhão que consiste em dar e receber mútuos em amor. É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] aqui também ele entra na posse e gozo de sua riqueza ontológica dentro de uma comunhão que consiste em dar e receber mútuos em amor. É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] de sua riqueza ontológica dentro de uma comunhão que consiste em dar e receber mútuos no amor. É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] de sua riqueza ontológica dentro de uma comunhão que consiste em dar e receber mútuos no amor. É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] É somente nessa comunhão que ele pode experimentar o bem objetivo de sua própria pessoa como uma riqueza “ontológica” inerente à sua própria pessoa desde a sua própria criação. Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19] Possuir riqueza ontológica é descansar na alegria de ser amado por um Criador generoso – um descanso que só pode ocorrer no contexto de uma comunhão de amor entre pessoas todas amadas ao mesmo tempo por seu Criador. Esse prazer repousante não se opõe à produtividade, mas distingue a produtividade verdadeiramente frutífera da atividade frenética de uma cultura obcecada por resultados quantificáveis.[19]
Se levarmos a sério essa compreensão “ontológica” da riqueza, temos que dizer que a “pobreza”, como condição crônica, não consiste principalmente na falta de bens materiais, mas antes e principalmente na falta de participação significativa na vida. apenas o tipo de comunhão mencionado acima. Pense nos moradores do gueto que têm muitas “coisas” – carros, televisores, aparelhos de som – mas que mesmo assim continuam vivendo na miséria. Essa miséria reflete a falta de participação significativa no tipo de comunhão de dar e receber que por si só pode desbloquear para o indivíduo a riqueza de seu ser como pessoa. Mas – e esta é a principal afirmação da presente seção – uma economia que privilegia a troca contratual auto-interessada como seu paradigma primário de atividade econômica até agora relega a comunhão às margens do mercado. Tal economia, em outras palavras, mina ativamente as condições necessárias para a realização da riqueza ontológica da pessoa. Da mesma forma, a pobreza que ocorre em uma economia liberal não é simplesmente, ou mesmo principalmente, uma falha em produzir em seus termos (instrumentistas). É, ainda mais fundamentalmente, uma concepção de si mesmo como tendo que produzir exatamente nesses termos.
Na medida em que as economias liberais incorporam a substituição da comunhão pelo contrato, elas tendem a produzir pobreza ontológica. São geradores de um homo economicus que é deficiente em riqueza ontológica, de pessoas que são “ontologicamente pobres”. Ironicamente, essa pobreza ontológica se deve à mesma coisa que parece tornar rico o homem econômico: sua busca incansável pelo lucro. Essa inquietação se traduz, de fato, na incapacidade de repousar na plenitude que caracteriza seu ser como dom. Certamente, a busca compulsiva de lucro do homem econômico não precisa ser simplesmente uma expressão de ganância vil. Muitas vezes reflete uma busca silenciosa de autojustificação através do trabalho, uma busca que deriva, por sua vez, de uma falha em experimentar o ser como dom dentro da comunhão. Entendida dessa maneira, a psicologia do homem econômico acaba por ser difundida em nossa cultura orientada para resultados.
Para que os leitores não pensem que estou atacando um mero espantalho, considere o chamado “estresse” que assombra não apenas empresários, mas também advogados, médicos, contadores e até acadêmicos – para mencionar apenas algumas profissões – nos Estados Unidos hoje. “Estresse”, é claro, é apenas outro nome para a ansiedade desconfortável que sentimos quando estamos sob pressão. Sob pressão para fazer o que, no entanto? Para produzir. Essa pressão é tão implacável que muitos profissionais encontram suas vidas passando por eles enquanto se escravizam para atender a um cronograma de produção sem fim e sempre em expansão. Aqui vemos como o homo economicus está cada vez mais informando o ethos de profissões e instituições que, à primeira vista, parecem ter pouco a ver com “negócios” em sentido estrito.[20]
Isso levanta, no entanto, uma outra questão: mesmo supondo que a economia liberal cause, de fato, um empobrecimento ontológico da pessoa humana, o que a pobreza ontológica poderia ter a ver com os fatos duros da realidade econômica? As economias liberais não funcionam ao menos em termos puramente econômicos, independentemente de suas consequências supostamente deletérias para a pessoa humana? Claramente, a resposta a esta pergunta depende, em grande parte, do que se entende por “puramente econômico”. Na verdade, não devemos ser muito rápidos em conceder a vantagem econômica à economia liberal. Vimos acima que a troca contratual entre estranhos interessados não pode ser o paradigma primário da liberdade econômica sem desnaturar a liberdade. Veremos agora que ela não pode ser o paradigma primário da liberdade econômica sem desnaturar a própria economia.
O primeiro passo deve ser dissipar a ilusão de invencibilidade que a economia liberal cria ao envolver-se nas técnicas de análise quantitativa. Isso exigirá mostrar que a noção liberal de lucro, supostamente perfeitamente quantitativa, é, de fato, um padrão qualitativo mascarado – um padrão que pode ser descrito como uma redução caricatural da riqueza ontológica. Em seguida, passarei a discutir as desastrosas consequências econômicas decorrentes dessa redução.
Caracterizei a posse de riqueza ontológica há pouco em termos do gozo da própria existência. É importante ver que esse prazer não é apenas outro nome para o que a economia liberal entende por interesse próprio. De fato, o inverso é realmente o caso: o que a economia liberal entende por interesse próprio é uma forma drasticamente reduzida do gozo da própria existência que caracteriza a riqueza ontológica. Certamente, a riqueza ontológica inclui algo como um “interesse” em nós mesmos. Afinal, não podemos desfrutar de nossa própria existência a menos que estejamos felizes por existirmos. O que a economia liberal perde, no entanto, é que o eu real, o único eu que realmente existe, é aquele que sempre já é um presente para si mesmo. Ele perde o fato de que podemos estar “interessados” em nós mesmos como devemos apenas reconhecendo no âmago de nosso ser que somos dom, ou seja, deixando-nos ser amados por Deus. Esse reconhecimento, o ato mais elevado de liberdade, é o cerne do que quero dizer com o gozo da existência.
Ora, o gozo da existência neste sentido é eminentemente fecundo: nunca se esgota em nós mesmos, mas sempre se transborda, ou melhor, é apanhado no transbordamento de Deus, razão pela qual ocorre paradigmaticamente na comunhão. Esse transbordamento frutífero deve ser o cerne de uma noção autêntica de lucro.
O lucro, corretamente entendido, não é primariamente um ganho quantitativamente mensurável que está fora da pessoa, mas um aprimoramento qualitativo do gozo de sua existência como dom. Meu ponto, apresso-me a acrescentar, não é que o lucro seja irrelevante para o cálculo econômico; nem estou negando que o lucro tenha uma dimensão quantitativa. Estou simplesmente dizendo que a dimensão qualitativa é anterior e determina a forma e o significado da quantitativa. Afinal, por que alguém buscaria uma quantidade maior de dinheiro a menos que achasse melhor — do ponto de vista qualitativo — ter mais dinheiro? Em outras palavras, embora a economia liberal pareça efetuar uma substituição limpa da riqueza ontológica por um senso puramente quantitativo de lucro, na verdade está fazendo algo bem diferente. O ato de privilegiar o aspecto quantitativo não elimina a primazia da riqueza ontológica, mas simplesmente transfere o ônus da riqueza ontológica para seus aspectos quantitativos. O resultado, então, não é realmente um sentido de riqueza não ontológico, puramente quantitativo, mas sim uma forma reduzida de riqueza ontológica mascarada como pura quantidade.[21]
Ironicamente, então, a economia liberal não entende direito nem mesmo a noção de lucro. Um lucro que é apenas riqueza ontológica truncada mascarada como “quantidade pura” não é nem mesmo lucro real – e, portanto, não pode ser um padrão adequado para medir o valor econômico. A consideração das consequências econômicas funestas dessa inadequação nos ajudará a ver como o empobrecimento ontológico da pessoa humana pelo liberalismo está diretamente ligado a uma disfunção econômica – a uma “pobreza da economia liberal” que expressa sua pobreza ontológica na materialidade da economia.
A concepção de lucro da economia liberal como “puramente quantitativo” anda de mãos dadas com o que poderíamos chamar de “fórmula de crescimento” das economias liberais: vender mais barato. Afinal, se o lucro é puramente quantificável, e se as unidades de medida são dólares, então a maneira mais óbvia de aumentar o lucro (sem extorquir o consumidor) é apenas isso, vender mais barato. Observe, porém, que é impossível vender mais barato sem degradar a qualidade dos itens vendidos. Alta qualidade significa produção cara, e produção cara significa a impossibilidade prática de fazer mais para vender mais barato.[22] As economias liberais apresentam assim um paradoxo fundamental. Por um lado, o valor de, digamos, um empreendimento econômico (como expresso, por exemplo, no preço das ações) é baseado em sua capacidade de obter lucro dentro de um prazo especificado. Por outro lado, essa lucratividade precisa estar apenas vagamente relacionada, se for o caso, à qualidade dos bens ou serviços que a empresa oferece. Em outras palavras: a base da lucratividade da empresa não é o valor objetivo e qualitativo do que ela oferece à sociedade em termos de bens e serviços, mas os desejos subjetivos dos consumidores, desejos que devem ser incendiados por meio da publicidade. Além disso, esses desejos geralmente estão carregados de expectativas que não podem ser cumpridas precisamente porque muitas vezes seu objeto é lixo barato (resultado do imperativo dos produtores de vender mais barato). Obviamente, ainda existem muitas empresas que operam com uma preocupação genuína com a qualidade de seus produtos, produtos que essas empresas desejam oferecer como um verdadeiro serviço à sociedade. Meu ponto certamente não é fazer uma generalização geral sobre empreendedores, mas sim identificar a lógica subjacente à maneira pela qual a economia liberal quantifica o lucro como substituto da fecundidade da riqueza ontológica. Baseando-se em sua concepção de lucro puramente quantitativo como parâmetro, a economia liberal sistematicamente mede mal o valor econômico, concentrando-se em ganhos pontuais quantificáveis, excluindo todos os outros fatores relevantes para a determinação desse valor. Valor, na economia liberal, é a capacidade de ganhar dinheiro, independentemente de ganhar dinheiro ou não ser baseado em loucura econômica em outros aspectos.[23] mas sim identificar a lógica subjacente à maneira pela qual a economia liberal quantifica o lucro como substituto da fecundidade da riqueza ontológica. Baseando-se em sua concepção de lucro puramente quantitativo como parâmetro, a economia liberal sistematicamente mede mal o valor econômico, concentrando-se em ganhos pontuais quantificáveis, excluindo todos os outros fatores relevantes para a determinação desse valor. Valor, na economia liberal, é a capacidade de ganhar dinheiro, independentemente de ganhar dinheiro ou não ser baseado em loucura econômica em outros aspectos.[23] mas sim identificar a lógica subjacente à maneira pela qual a economia liberal quantifica o lucro como substituto da fecundidade da riqueza ontológica. Baseando-se em sua concepção de lucro puramente quantitativo como parâmetro, a economia liberal sistematicamente mede mal o valor econômico, concentrando-se em ganhos pontuais quantificáveis, excluindo todos os outros fatores relevantes para a determinação desse valor. Valor, na economia liberal, é a capacidade de ganhar dinheiro, independentemente de ganhar dinheiro ou não ser baseado em loucura econômica em outros aspectos.[23] concentrando-se em ganhos pontuais quantificáveis, excluindo todos os outros fatores relevantes para a determinação desse valor. Valor, na economia liberal, é a capacidade de ganhar dinheiro, independentemente de ganhar dinheiro ou não ser baseado em loucura econômica em outros aspectos.[23] concentrando-se em ganhos pontuais quantificáveis, excluindo todos os outros fatores relevantes para a determinação desse valor. Valor, na economia liberal, é a capacidade de ganhar dinheiro, independentemente de ganhar dinheiro ou não ser baseado em loucura econômica em outros aspectos.[23]
Certamente, a quantificação do lucro, aliada ao imperativo de vender mais barato, possibilita a produção e o consumo em massa de bens e serviços e, portanto, um certo tipo de riqueza. No entanto, essa riqueza – o volume de bens e serviços produzidos e consumidos – não é necessariamente um índice confiável de saúde econômica porque impõe um custo cuja existência é muitas vezes ignorada ou explicada, mas que, em qualquer contabilidade objetiva, compensa grandemente sua existência. valor real: desperdício sistêmico. Não só a fabricação de itens mais baratos envolve o descarte de grandes quantidades de matéria-prima, como os itens produzidos saem do ciclo de produção no momento do consumo; eles não podem (com raras exceções) ser reciclados economicamente. Em consequência, os produtores são obrigados a desperdiçar recursos, às vezes até a exaustão, para fazer itens economicamente não recicláveis. Veja o exemplo dos plásticos. É verdade que muitos itens de plástico agora são reciclados rotineiramente. No entanto, nem todos os itens de plástico podem ser reciclados e, de qualquer forma, a prática de reciclar plásticos é bastante recente. Um grande número de produtos plásticos já saiu irremediavelmente do ciclo de produção. É demais pensar que isso colocou uma pressão correspondente nas reservas de combustíveis fósseis? Sem querer argumentar que a perda de milhões de toneladas de plásticos no ciclo produtivo é a única responsável pelo problema, não podemos ao menos dizer que contribuiu significativamente para o esgotamento das reservas de petróleo nos Estados Unidos (e, portanto, também para a infeliz dependência dos Estados Unidos de certos países do Oriente Médio com os quais mantém relações incômodas em outras frentes, por exemplo, o Iraque)? É claro que muitas vezes se argumenta que o esgotamento dos recursos é, em última análise, ilusório; é sempre possível, diz-se, encontrar recursos substitutos, especialmente porque a demanda muda com as novas possibilidades tecnológicas. Mesmo que essa resposta fosse verdadeira, ela perde o ponto: o que estou criticando é um padrão de produtividade – sejam ou não suas consequências, em última análise, contáveis – que é inerentemente um desperdício porque é voltado para produtos que não podem ser reintroduzidos no ciclo produtivo. Uma economia inerentemente perdulária, seja o que for, não pode ser uma economia saudável, especialmente se as conquistas que supostamente constituem sua saúde são necessariamente construídas sobre o próprio desperdício que é um sintoma seguro, não de saúde, mas de disfunção.
Não estou negando, é claro, que as economias liberais produzem uma abundância de bens baratos. O que quero dizer é que essa conquista não é um índice confiável de saúde econômica. A razão para essa falta de confiabilidade, estou argumentando, é que os produtos baratos em questão são baratos apenas para o consumidor individual no momento da compra, não para a sociedade como um todo. O próprio processo de criar uma abundância de bens baratos para consumidores individuais no momento da compra – produção em massa alimentada pelo imperativo de vender mais barato – inevitavelmente causa efeitos colaterais negativos. Pense, por exemplo, na poluição causada pelo (antes rotineiro) despejo de produtos químicos tóxicos em cursos d'água: o custo dos procedimentos de limpeza pode chegar a vários milhões. Agora, alguém em algum lugar - geralmente os contribuintes - eventualmente tem que arcar com o custo de lidar com esses efeitos colaterais. E o custo não é metafórico, mas real, calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam por esses bens nas lojas. A questão que devemos fazer é se uma economia que compra pequenos ganhos ao custo de perdas líquidas pode ser declarada sã, se por “sã” queremos dizer “conforme às exigências do bom senso econômico” e não apenas “boa em aumentando o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom para aumentar os lucros, induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos.”[24] calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam por esses bens nas lojas. A questão que devemos fazer é se uma economia que compra pequenos ganhos ao custo de perdas líquidas pode ser declarada sã, se por “sã” queremos dizer “conforme às exigências do bom senso econômico” e não apenas “boa em aumentando o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom para aumentar os lucros, induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos.”[24] calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam por esses bens nas lojas. A questão que devemos fazer é se uma economia que compra pequenos ganhos ao custo de perdas líquidas pode ser declarada sã, se por “sã” queremos dizer “conforme às exigências do bom senso econômico” e não apenas “boa em aumentando o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom para aumentar os lucros, induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos.”[24]
Se, como sugere a análise anterior, o valor da riqueza gerada pelas economias liberais é significativamente compensado pelo desperdício sistêmico sobre o qual esse tipo de riqueza se baseia, então não podemos aceitar acriticamente a capacidade de produzir tal riqueza como única, ou mesmo como o índice primário de saúde econômica. Fazer isso é deixar de fora muito que, em qualquer contabilidade objetiva, teria que ser considerado antes que pudéssemos declarar uma economia saudável. No entanto, é exatamente isso que a economia liberal faz: redefine a saúde econômica de uma maneira abstrata e simplistamente redutiva que lhe permite ignorar todos os critérios de saúde econômica que não sejam os poucos que considera relevantes. Isso nos traz de volta à questão, as economias liberais não funcionam em termos puramente econômicos? Pode-se dizer que as economias liberais “funcionam” apenas se aceitarmos seus próprios padrões de eficiência. Dada a falta de confiabilidade desses padrões, no entanto, deveríamos hesitar muito em conceder ao liberalismo o alto nível do bom senso econômico. Se o argumento até agora estiver correto, então não podemos confiar em economistas liberais para julgar adequadamente a eficiência econômica.
Afinal, literalmente não faz sentido, não faz sentido econômico, dizer que uma economia construída com a máxima “vender mais barato” é “boa” apenas porque seu desperdício maciço e sistêmico ajuda a fornecer os ganhos pontuais que escolhemos considerar, com a maior abstração, o único critério de sucesso econômico. O problema com a economia liberal, de fato, não é apenas uma falha ética no sentido estrito, mas uma falha da racionalidade econômica, do homem econômico precisamente como um calculador “racional” de lucros e perdas. O homem econômico não é apenas imoral, ele também é estúpido demais para ver o que realmente é do seu melhor “interesse”. E ele é ambos pela mesma razão: a construção da liberdade econômica pela economia liberal como indiferente ao bem objetivo da pessoa como dom que floresce na comunhão.
[A] economia humana não pode prescrever os termos de seu próprio sucesso. Em uma época em que desejamos acreditar que os humanos são os únicos autores da verdade, que a verdade é relativa e que todos os julgamentos de valor são subjetivos, é difícil dizer que uma economia humana pode estar errada e, no entanto, temos boas e sólidas , razões práticas para dizer isso. De fato, é possível que uma economia humana esteja errada — não relativamente errada, no sentido de estar 'fora de ajuste' ou injusta de acordo com alguma definição de justiça — mas absolutamente errada e de acordo com medidas práticas. É claro que, se virmos a economia humana como a única economia, veremos seus erros como fracassos políticos e continuaremos a falar sobre 'recuperação'. ' É somente quando pensamos na pequena economia humana em relação à Grande Economia que começamos a entender nossos erros pelo que são e a ver os significados qualitativos de nossas medidas quantitativas. Se vemos a economia industrial em termos da Grande Economia, começamos a ver os desperdícios e perdas industriais, não como 'trocas' ou 'riscos necessários', mas como custos que, como todos os custos, são cobrados de alguém, em algum momento. .[25]
Irrealismo?
O presente ensaio argumentou que os cristãos devem ser cautelosos em aceitar a economia liberal como um veículo para evangelizar ou ajudar os pobres. Defensores da economia liberal, como Michael Novak, sem dúvida replicariam que exagerei a incompatibilidade entre o cristianismo e a tradição econômica liberal. Certamente, dirão tais defensores, podemos separar a instituição do mercado da ideologia do “homem econômico”? Reconheço, é claro, que não existe homo economicus no sentido puro. Nenhuma pessoa individual é, ou poderia ser, o que o homo economicus deveria ser, e a maioria dos indivíduos é, de fato, muito melhor do que o homem econômico. O que estou querendo dizer é simplesmente que a economia liberal, ao instalar a troca contratual indiferente ao bem objetivo da pessoa como a instância paradigmática da liberdade econômica (e tudo isso sob o pretexto de “neutralidade”), na verdade projeta a economia para fins econômicos. cara. Repetindo: o puro homo economicus é uma impossibilidade no mundo real. Isso não significa, no entanto, que as economias liberais não sejam problemáticas, mas exatamente o oposto. Tais economias são construídas para incorporar uma antropologia impraticável que leva à disfunção mesmo e também na ordem prática.
Em certo sentido, os neoconservadores defendem exatamente este ponto: uma economia liberal, dizem eles, depende de uma bondade que ela mesma não gera. O que eles perdem, no entanto, é que a economia liberal, embora de fato dependa dessa bondade “espontânea”, não tem o direito de fazê-lo, pois sua lógica interna tende a envenenar as fontes de onde vem essa bondade. De fato, eles não conseguem ver que sua distinção entre instituição e ideologia transforma o mercado, por sua lógica interna, em um habitat para o homo economicus .. Por não desafiarem suficientemente os princípios da ordem liberal, os neoconservadores não podem fazer mais do que tentar impedir que o homem econômico absorva a totalidade da vida social. Eles são impedidos de um desafio tão radical pelo medo, compreensível de um certo ponto de vista, de atrelar a economia ao controle ruinoso dos planejadores centrais. Mas se a economia liberal não garante nem liberdade real nem prosperidade real, não seria hora de começar, finalmente, a tarefa laboriosa, mas necessária, de desenvolver uma economia da dádiva que reconheça e respeite devidamente a primazia da riqueza ontológica?
Se, como sugeri, não se pode confiar na economia liberal para nos dizer o que realmente é a saúde econômica, então que razão pode haver, além do apego obstinado ao status quo, para deixar nossos compromissos econômicos prevalecentes sem exame? Não seria o momento de reconsiderar, entre outras coisas, a primazia que atribuímos ao bem-estar do mercado global sobre o bem-estar das economias locais? A economia local é, afinal, mais obviamente uma extensão da comunidade local mantida unida pelos laços de vizinhança. Escusado será dizer que quaisquer mudanças na política e na prática que tal repriorização envolvesse teriam que ser acompanhadas de muita prudência e inteligência operando dentro de uma profunda consciência e respeito pela dignidade das pessoas, o peso da história e os limites da natureza humana.
Mesmo com esses qualificadores em vigor, minha crítica à economia liberal está destinada a atrair a acusação de que ela é irrealista. Não há alternativa praticável ao sistema atual, dir-se-á, e qualquer desafio radical a ele reflete um utopismo que ignora alegremente os duros aspectos práticos da realidade econômica. Sejamos francos: a acusação de “irrealismo” é muitas vezes uma relutância velada ou incapacidade de imaginar uma economia impulsionada por um conjunto de prioridades diferentes daquela já em vigor. Não estou defendendo que o governo assuma a produção e distribuição de bens e serviços. Mas hoje o espectro de uma economia centralmente planejada é uma pista falsa. Não só a economia liberal tem uma relação simbiótica com o Estado, também favorece indevidamente a concentração do poder econômico em grandes corporações (quem mais pode manter economias de escala?) pesquisa do cientista em seu laboratório universitário. O que estou defendendo é precisamente que direcionemos nossos esforços para uma descentralização do poder econômico em favor da localidade, cuja escala permita uma genuína deliberação política sobre o uso mais eficiente dos recursos sem a coerção envolvida no planejamento central. É claro que ainda deve haver um mercado nacional e internacional, mas esses níveis mais altos devem ser estruturados de forma que a entrada de unidades políticas subsidiárias, por exemplo, a cidade, têm permissão para proteger o indivíduo das invasões do grande governo, das grandes empresas e, por falar nisso, da grande mídia. O bem objetivo da pessoa humana requer o tipo de arranjos econômicos que protegem contribuições genuínas para a ordem social “de baixo” de uma forma que, vemos agora, a economia liberal não pode. Para encerrar o debate sobre tal alternativa, descartando-a a priori , como um sonho, diz mais sobre o apego de alguém às prioridades, em última análise, não liberais que moldam a economia hoje do que sobre as realidades reais da vida econômica.
O conjunto de prioridades econômicas atualmente dominantes é caracterizado pela aliança da motivação do lucro e da tecnologia na forma de economias de escala. Essa aliança resultou no domínio do mercado de itens facilmente embaláveis, facilmente transportáveis, que podem ser acumulados em pontos de venda e não precisam ter conexão orgânica com os locais onde estão localizados. O resultado é uma economia do shopping e do Burger King. É importante ressaltar que essa economia do shopping e do Burger King não é censurável apenas porque é feia. Sua feiúra é o índice de uma ineficiência sistêmica que pode ser criticada em bases estritamente econômicas. A raiz dessa ineficiência está no tipo de ator econômico ideal que a aliança entre o lucro e a tecnologia pressupõe: homo economicus sob a forma de técnico. É o técnico que impulsiona a expansão da economia atual, e o técnico é aquele que busca incansavelmente inventar processos que entreguem um único resultado de forma rápida e conveniente. Mas, se assumirmos que a eficiência consiste na capacidade de obter o maior benefício possível com o menor dispêndio possível de tempo, energia e recursos, então a eficiência do técnico acaba sendo econômica apenas em um sentido altamente abstrato: pode atingir o um resultado desejado de forma rápida e conveniente, mas para isso tem que ignorar os custos muito reais que são acarretados pela própria “eficiência” que o técnico preza.
Seria, então, uma petição de princípio e altamente enganoso descartar as críticas sistêmicas da economia liberal com base no fato de que a economia liberal “funciona” – ou seja, com base em que não há alternativa prática à economia liberal. Na medida em que as economias ocidentais modernas de fato “funcionaram” e continuam a “funcionar”, elas não o fizeram pelas razões alegadas pela economia liberal, mas sim porque incontestavelmente dependem de uma integração da atividade econômica com um sentido mais completo de pessoa e comunidade que a teoria econômica liberal solapa logicamente. Isso sugere tanto a necessidade quanto a possibilidade de uma explicação alternativa da atividade econômica que a conceba desde o início como uma participação direta, ainda que especificamente diferenciada, na busca do bem objetivo da pessoa, em vez de simplesmente justaposto e influenciado externamente por esse bem. Essa explicação manteria valores como governo limitado, liberdade de consciência constitucionalmente salvaguardada e mercado, mas interpretaria esses valores de dentro de uma estrutura não liberal na convicção de que sua interpretação liberal, longe de ser sua única salvaguarda, na verdade os mina.
Por fim, deixe-me observar que a proposta de uma economia da dádiva não implica um maximalismo que exigiria nada menos que perfeição dos atores econômicos. Seria realmente utópico ao extremo imaginar que poderíamos criar um sistema econômico que automaticamente garantiria a virtude. Qualquer economia realista deve levar em conta a propensão humana caída ao egoísmo. Precisamente porque o bem objetivo da pessoa inclui sua subjetividade, isso implica o pleno reconhecimento da liberdade, mesmo da liberdade de errar, que todo legislador prudente deve levar em conta. Por outro lado, não devemos esquecer que a comunhão continua a ser a verdade mais profunda da liberdade, não apenas como um ideal de liberdade ainda a ser alcançado (é isso também, claro), mas também como a realidade da liberdade, mesmo no meio de sua condição caída. Falar de uma economia da dádiva, então, não é ceder a um maximalismo utópico, mas dizer a verdade sobre o homem. A questão então se torna se a liberdade floresce melhor ou não quando essa verdade é reconhecida ou quando, como no caso do liberalismo, é efetivamente substituída por uma explicação da liberdade que a diminui e restringe.
Conclusão: A pobreza não é um problema
O ônus do presente ensaio é que a economia liberal, mesmo em sua forma mais benigna (“neoconservadora”), é inadequada à tarefa da Igreja de evangelizar os pobres e abordar a causa sistêmica da pobreza. Também defendi a necessidade de desenvolver uma economia alternativa da dádiva que possa assimilar tudo o que possa ser de valor no paradigma liberal sem assumir seus pressupostos governantes. Desnecessário dizer que excede o escopo do presente ensaio detalhar uma economia da dádiva plenamente desenvolvida. Permitam-me concluir, em vez disso, sugerindo duas condições fundamentais que qualquer proposta de uma economia da dádiva teria de atender. Isso nos permitirá, em síntese, capturar o que é distintivo sobre tal economia em sua abordagem ao “problema” da pobreza.
A primeira condição é que entendamos a tarefa de elaborar uma economia da dádiva como uma tarefa primordialmente teológica, não meramente como um exercício de economia convencional. Não é que a economia não importe, mas sim que a economia convencional, profundamente moldada pela tradição liberal, interpreta a própria economia errada ao separá-la das considerações teológicas. O desenvolvimento histórico da economia como ciência ocorreu à sombra da cisão entre a vida cristã e a vida mundana. A neutralidade que o liberalismo reivindica para o mercado é, de fato, uma espécie de codificação dessa cisão, cuja essência é que o objetivo da atividade mundana – neste caso, a atividade econômica – não é uma forma de relação com Deus, que pode apenas ser adicionado a esse objetivo do lado de fora. Essa noção não é inteiramente falsa, é claro.Gaudium et Spes , seção 36). O que o liberalismo perde, no entanto, é que a autonomia legítima do mercado, como a de tudo o mais na criação, seja ela própria constituída por uma relação com Deus, não em separação dele. A aceitação dos neoconservadores da ideia de que pode haver uma racionalidade econômica liberal neutra e independente é, portanto, insuficiente. O que os neoconservadores ignoram é a necessidade de um novo modelo de razão econômica. Com efeito, a única esperança de uma economia sã e humana é um novo ideal antropológico que leve em conta o caráter dom da existência, tal como é plenamente revelado em Jesus Cristo, que, nas palavras da Gaudium et Spes (seção 22) revela o homem a si mesmo. Somente tal ator econômico, de fato, pode compreender adequadamente o objetivo de uma economia e como alcançá-lo, porque somente ele vê consistentemente esse objetivo, e os meios que conduzem a ele, como uma forma específica de relação com Deus, de fato , ao Logos encarnado, em quem todas as coisas, mesmo as mais “mundanas”, se mantêm unidas e fazem sentido.
A segunda condição sine qua non da nova economia da dádiva é aquela que o fracasso do liberalismo em cumprir suas promessas torna tão necessária: para repensar a economia a partir da posição do ator econômico ideal no centro dessa nova economia , devemos nos tornar ele nós mesmos. Precisamos ser transformados no novo paradigma da racionalidade econômica como parte da dinâmica de uma conversão contínua a Cristo através da “renovação da mente” (Rm 12,2). Mas não podemos passar por essa transformação se não permitirmos que nossa racionalidade econômica se forme na experiência vivida da primeira bem-aventurança de Jesus, “bem-aventurados os pobres de espírito”. A pobreza de espírito, de fato, é o cerne da nova economia da dádiva. Não é outra coisa que a radicalização que o Evangelho traz ao acolhimento do dom de estar em comunhão, acolhimento que se enraíza na própria constituição criatural da pessoa.
Essa sugestão pode inquietar alguns que, por causa da divisão entre cristianismo e cultura mencionada acima, estão acostumados a entender a pobreza de espírito (junto com o restante das bem-aventuranças) simplesmente como um modo de ascetismo negador do mundo. Na realidade, a pobreza de espírito não nos afasta do coração do mundo, mas nos mergulha nele para que, a partir dele, possamos nos abrir ao que está além deste mundo. A pobreza de espírito pode, assim, acompanhar e informar nosso pensamento e engajamento prático com as realidades em constante mudança da vida econômica. Ela nos acompanha, porém, não de uma forma meramente geral, mas de uma forma específica diretamente pertinente à economia. A pobreza de espírito é o oposto do ativismo inquieto do workaholic. Caracteriza-se pela ludicidade nascida de uma consciência de que nem tudo depende de mim – uma consciência que, paradoxalmente, me permite agir como se tudo dependesse de mim, ainda que agora em espírito de ludicidade. Mas essa ludicidade é o gozo da existência como dom que, como argumentei acima, é a chave para a riqueza ontológica. A pobreza de espírito, então, é ela mesma o exercício da riqueza ontológica. Ser pobre de espírito é ser ontologicamente rico, porque a riqueza ontológica nada mais é do que o ato fecundo de deixar-se amar à existência como dom de Deus em comunhão, o ato de ser despossuído para ser devolvido a si mesmo como (infinitamente) mais do que um poderia estar sozinho. Mas essa ludicidade é o gozo da existência como dom que, como argumentei acima, é a chave para a riqueza ontológica. A pobreza de espírito, então, é ela mesma o exercício da riqueza ontológica. Ser pobre de espírito é ser ontologicamente rico, porque a riqueza ontológica nada mais é do que o ato fecundo de deixar-se amar à existência como dom de Deus em comunhão, o ato de ser despossuído para ser devolvido a si mesmo como (infinitamente) mais do que um poderia estar sozinho. Mas essa ludicidade é o gozo da existência como dom que, como argumentei acima, é a chave para a riqueza ontológica. A pobreza de espírito, então, é ela mesma o exercício da riqueza ontológica. Ser pobre de espírito é ser ontologicamente rico, porque a riqueza ontológica nada mais é do que o ato fecundo de deixar-se amar à existência como dom de Deus em comunhão, o ato de ser despossuído para ser devolvido a si mesmo como (infinitamente) mais do que um poderia estar sozinho.
É crucial ver que a pobreza de espírito não é uma espécie de adição piedosa ao sentido econômico de riqueza; é o ingrediente principal no sentido econômico da própria riqueza. Essa afirmação fica mais clara quando consideramos que a eficiência econômica é melhor compreendida em termos do artesão do que do técnico. O artesão não é menos competente tecnicamente do que o técnico, assim como não está menos preocupado com a eficiência prática do que o técnico. O que distingue o artesão do técnico é antes a abertura do artesão para vivenciar seu trabalho como forma de participação na “riqueza ontológica”. Essa abertura à riqueza ontológica não é, porém, um extra opcional, uma cereja no topo do bolo moral.
A riqueza ontológica é o que permite ao artesão evitar a tendência do técnico de identificar a eficiência com ganhos abstratos e pontuais, ao mesmo tempo em que exclui de seus cálculos os custos econômicos reais de tal senso abstrato de eficiência. Agora, por causa de sua participação na riqueza ontológica, o artesão também é (potencialmente) um dos “pobres de espírito” que Jesus elogia nos Evangelhos. Isso nos dá a chave da afirmação sugerida acima: A pobreza de espírito, longe de ser uma espécie de adorno supererrogatório, é o ethos da racionalidade econômica, cuja presença ou ausência faz toda a diferença entre a sanidade econômica e a loucura econômica. Por outro lado, qualquer suposta “solução” para o “problema” da pobreza material que, como a economia liberal, negligenciar a pobreza de espírito de que fala Cristo não só colocará em seu lugar uma antropologia redutora – a antropologia do técnico – que não só bloqueia uma solução real para o problema da pobreza material, mas também tende a aprofundá-lo através da promoção da uma ineficiência sistêmica lamentavelmente inadequada para os verdadeiros aspectos práticos da esfera econômica no mundo real. Ser pobre de espírito é superar o divórcio entre racionalidade prática, ethos e religião que, disfarçada de “neutralidade”, é a fonte de nossa disfunção econômica. Como Wendell Berry escreve: mas na verdade tende a aprofundá-lo através da promoção de uma ineficiência sistêmica lamentavelmente inadequada às verdadeiras práticas da esfera econômica no mundo real. Ser pobre de espírito é superar o divórcio entre racionalidade prática, ethos e religião que, disfarçada de “neutralidade”, é a fonte de nossa disfunção econômica. Como Wendell Berry escreve: mas na verdade tende a aprofundá-lo através da promoção de uma ineficiência sistêmica lamentavelmente inadequada às verdadeiras práticas da esfera econômica no mundo real. Ser pobre de espírito é superar o divórcio entre racionalidade prática, ethos e religião que, disfarçada de “neutralidade”, é a fonte de nossa disfunção econômica. Como Wendell Berry escreve:
Se dermos crédito à descrição bíblica da relação entre Criador e Criação, então não podemos negar a importância espiritual de nossa vida econômica. Então devemos ver como questões religiosas levam a questões de economia e como questões de economia levam a questões de arte. Por 'arte' quero dizer todas as maneiras pelas quais os humanos fazem as coisas de que precisam. Se entendermos que nenhum artista – nenhum criador – pode trabalhar exceto retrabalhando as obras da Criação, então veremos que por meio de nosso trabalho revelamos o que pensamos das obras de Deus. Como tiramos nossas vidas deste mundo, como trabalhamos, que trabalho fazemos, quão bem usamos os materiais que usamos e o que fazemos com eles depois de usá-los - todas essas são questões do mais alto e mais grave significado religioso. . Ao respondê-las, praticamos ou não praticamos nossa religião.[26]
Em certo sentido, então, os teólogos da libertação têm razão. A tarefa dos cristãos é fomentar a revolução. Somente a “revolução” pela qual eles devem trabalhar não é um ataque violento às instituições existentes de fora, mas uma revolução de significado que permite que elas sejam mudadas – orgânica, pacientemente e com pleno respeito pela dignidade das pessoas – de dentro . Ao perseguir essa revolução de sentido, os cristãos devem usar os espaços de liberdade deixados no sistema atual (deixados apesar de seus princípios fundadores) para mostrar, em seu próprio ser, agir e pensar, que o seguimento radical de Cristo é o “ luz do mundo” cujos raios se estendem até mesmo aos aspectos práticos da vida econômica. Parte da responsabilidade cristã, então, é repensar os pressupostos fundadores da economia liberal à luz da primazia da riqueza ontológica como recepção do dom da existência, ou seja, à luz da “pobreza de espírito” como chave para o significado mesmo de riqueza econômica.
A pobreza não é um problema. Ou, para ser mais específico, não podemos esperar resolver o problema da pobreza até que aprendamos a parar de vê-la como um problema a ser resolvido com as técnicas da racionalidade econômica liberal. A racionalidade econômica liberal não funciona. E não funciona porque não é formado na pobreza de espírito de Cristo. Por outro lado, se a pobreza nas sociedades liberais é um problema de sentido, ou melhor, de falta de sentido, enraizado no próprio fracasso da economia liberal em permitir que a pobreza de espírito molde o coração da racionalidade econômica, então a única abordagem viável para a pobreza, mesmo a assim chamada “pobreza material” é nos tornarmos “pobres de espírito” – e nessa pobreza repensar, com inteligência renovada por Cristo, o significado da riqueza e da pobreza à luz do destino humano. “O Ocidente decidiu que o cristianismo está nos chamando para lutar contra a pobreza, ou substituí-la por riquezas relativas, ou pelo menos igualdade econômica, etc.”, escreveu Alexander Schmemann. “O apelo cristão é bem diferente: pobreza como liberdade, pobreza como sinal de que o coração aceitou o chamado impossível (portanto trágico) ao Reino de Deus. Não sei. É tão difícil expressá-lo, mas sinto claramente que aqui há uma percepção diferente da vida, e o estado burguês (religioso, teológico, espiritual, piedoso, cultural etc.) é cego para algo essencial no cristianismo.”[27] pobreza como sinal de que o coração aceitou o chamado impossível (portanto trágico) ao Reino de Deus. Não sei. É tão difícil expressá-lo, mas sinto claramente que aqui há uma percepção diferente da vida, e o estado burguês (religioso, teológico, espiritual, piedoso, cultural etc.) é cego para algo essencial no cristianismo.”[27] pobreza como sinal de que o coração aceitou o chamado impossível (portanto trágico) ao Reino de Deus. Não sei. É tão difícil expressá-lo, mas sinto claramente que aqui há uma percepção diferente da vida, e o estado burguês (religioso, teológico, espiritual, piedoso, cultural etc.) é cego para algo essencial no cristianismo.”[27]
Notas:
- Isso não significa, é claro, que os governos não tenham, ou devam ter, absolutamente nenhuma responsabilidade por ajudar os pobres financeiramente e de outras maneiras. O ensino escolar católico, certamente não amigo do socialismo, sempre insistiu que o governo tem essa responsabilidade, deixando sempre à prudência política do legislador a determinação de como melhor exercer essa responsabilidade concretamente. Ao mesmo tempo, parece-me que a doutrina social católica oferece muitos argumentos, implícitos e explícitos, contra o que estou contestando aqui: a caridade burocratizada que, em vez de exaltar a dignidade humana do destinatário, na verdade tende a diminuir o respeito ele, também e especialmente no receptor. Por outro lado, embora concorde com os neoconservadores que os pobres devem ser ajudados a se tornarem agentes econômicos responsáveis, argumentarei que uma economia das dádivas leva a uma concepção bem diferente de “agentes econômicos”.
- Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade (Chicago: The University of Chicago Press, 1962), 13.
- Karl Polyani, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times (Boston: Beacon Books, 1957), passim.
- Deve-se ter em mente, no entanto, que a afirmação de que existem apenas dois tipos de sistemas econômicos – ou o que o liberalismo entende por “livre mercado” ou uma “economia planejada pelo Estado” – é em si uma peça da teoria econômica liberal baseada em toda uma série de pressupostos que, no mínimo, precisam ser questionados. Em outras palavras, existem razões perfeitamente boas e não-liberais para objetar ao Estado intervencionista imensamente inchado, burocratizado, razões que não nos obrigam a abraçar, por exemplo, a explicação altamente não tradicional da economia liberal tanto da natureza quanto do escopo do bem comum e da responsabilidade que a autoridade política tem por ele.
- Não estou afirmando, é claro, que a economia liberal seja simplesmente ideológica; uma crítica completa dela – que as limitações de espaço me impedem de realizar aqui – exigiria uma triagem paciente e respeitosa da riqueza de observações e análises que pensadores como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill ou, em nossos dias, Milton Friedman, trouxeram à sua interpretação de livre troca econômica. No entanto, uma leitura cuidadosa das obras desses homens, afirmo, revelaria, quando tudo estiver dito e feito, uma tendência consistente de incorporar o que os liberais afirmam ser uma descrição direta e cientificamente “neutra” de como o mercado funciona dentro de uma estrutura distinta. e, como mostrarei abaixo, uma compreensão profundamente falha da liberdade econômica.
- Outra linha de argumentação, que não pretendo desenvolver no presente fórum, seria mostrar como a confiança na troca contratual entre estranhos autointeressados como paradigma do livre mercado acarreta uma redução do alcance da noção de justiça. Essa confiança corta o grande tecido da justiça que uma faixa considerada publicamente relevante nas sociedades liberais: a “justiça” que consiste em as partes contratantes cumprirem os termos do contrato que firmaram. Ora, a justiça obviamente inclui o cumprimento das obrigações contratuais. Meu ponto é simplesmente que a justiça não pode ser reduzida a esse cumprimento. Tal redução nos deixa sem recursos contra, por exemplo, a tendência da cultura contemporânea de tolerar qualquer comportamento sexual desde que seja praticado por “adultos consentidos” ou, nesse caso, contra práticas trabalhistas desleais, práticas cuja injustiça não pode ser afastada por mútuo consentimento (mesmo supondo que as partes contratantes sejam igualmente livres na matéria). Não podemos dizer que o “consentimento mútuo” é suficiente para justificar moralmente qualquer atividade ou troca. A atividade ou troca também deve ser eticamente boa por outros motivos objetivos. Deve respeitar as exigências do bem objetivo da pessoa. Caso contrário, entregamos a ética ao subjetivismo e ao relativismo que são difundidos na cultura de hoje. fundamentos objetivos. Deve respeitar as exigências do bem objetivo da pessoa. Caso contrário, entregamos a ética ao subjetivismo e ao relativismo que são difundidos na cultura de hoje. fundamentos objetivos. Deve respeitar as exigências do bem objetivo da pessoa. Caso contrário, entregamos a ética ao subjetivismo e ao relativismo que são difundidos na cultura de hoje.
- Ironicamente, tal agnosticismo mina o próprio pluralismo que o liberalismo procura afirmar. A chamada neutralidade do mercado liberal implanta nele uma tendência imperialista de cooptar e, onde não pode cooperar, de deslocar, qualquer visão rival do bem. Qualquer afirmação sobre o bem que se recuse a se tornar um tributário do sistema de mercado liberal é banida para as margens da sociedade, onde é deixada definhar na irrelevância. O verdadeiro pluralismo, em contraste, só pode florescer contra o pano de fundo de uma explicação substantiva e reconhecida do bem objetivo da pessoa, suficientemente ampla para admitir uma apropriação crítica contínua por meio do diálogo. O bem objetivo da pessoa inclui necessariamente sua subjetividade (em pleno florescimento, cuja medida, é claro, não é simplesmente subjetivista, mas responde a uma dinâmica objetiva dada no próprio caráter da personalidade). Por isso, não oferece suporte para uma coação que atropela a dignidade da consciência. Muito pelo contrário: é, afinal, a única salvaguarda segura dessa dignidade.
- “Estranhamente, muitos estudiosos perderam o fato de que o capitalismo – o sistema econômico – está embutido em uma estrutura pluralista na qual é projetado para ser controlado por um sistema político e um sistema moral-cultural…. O capitalismo democrático não é apenas um 'sistema de livre iniciativa'. Ele não pode prosperar separado da cultura moral que nutre as virtudes e valores dos quais sua existência depende” (Michael Novak, The Spirit of Democratic Capitalism [New York: American Enterprise Institute/Simon and Schuster, 1982], 56).
- Veja, por exemplo, The Catholic Ethics and Spirit of Capitalism (Nova York: The Free Press, 1993)
- Certamente, os neoconservadores argumentam que, para ter sucesso mesmo nos próprios termos do mercado, as pessoas precisam ser virtuosas e, para serem virtuosas, precisam buscar o bem objetivo da pessoa. No entanto, esse argumento é desfeito pela lógica de sua própria distinção entre “instituição” e “ideologia”. Essa distinção deve significar uma de duas coisas: ou que a “instituição” do mercado, ou seja, a técnica de troca contratual voluntária, é formalmente neutra, em sua estrutura básica, em relação ao bem objetivo da pessoa, ou então que não é. Os neoconservadores podem ser encontrados defendendo ora um ora outro significado de distinção. Em ambos os casos, a distinção é problemática: (1) Às vezes os neoconservadores afirmam que a instituição do mercado é neutra em relação ao bem objetivo da pessoa. Eles interpretam essa neutralidade formal benignamente como uma liberdade de coerção que, dizem eles, deixa em aberto – na verdade, positivamente encoraja – o livre abraço do bem objetivo da pessoa. No entanto, a estrutura do mercado como eles o concebem ainda não inclui relação com o bem objetivo da pessoa. O próprio indivíduo deve acrescentar tal relação. Mas ele só pode adicioná-lo por razões extra-econômicas. Claro, os neoconservadores insistem que o mercado está sempre incorporado dentro de uma ordem moral-cultural mais ampla. No entanto, se o mercado (como instituição) ainda não contempla a relação com o bem objetivo da pessoa, então os valores da ordem moral-cultural permanecem um extra opcional. (2) Por outro lado, os neoconservadores às vezes argumentam que a distinção entre instituição e ideologia não significa, afinal, que o mercado seja formalmente neutro em relação ao bem objetivo da pessoa. Que bem objetivo eles significam, então: o bem objetivo criado no homem por Deus e plenamente revelado em Jesus Cristo? Ou um “digerimento” do bem objetivo feito sob medida para um mercado liberal inalterado em sua estrutura básica? Infelizmente, os neoconservadores acabam optando por esta última alternativa. Não importa como eles enquadrem a distinção instituições-ideologia, então, os neoconservadores acabam, pela lógica de seus próprios argumentos, com uma e a mesma conclusão: a liberdade econômica é primitivamente indiferente em relação ao bem objetivo da pessoa.
- Dois autores cujas obras estão saturadas desse tema são David Schindler e Ferdinand Ulrich. Ulrich, por exemplo, (cujas obras existem, infelizmente, apenas em alemão), desenvolve o pensamento de Tomás de Aquino para mostrar que o ato de criação de Deus, como doação de ser ex nihilo, traz a criatura à existência possuindo-se (porque traz a criatura à existência de uma só vez) como algo recebido inteiramente da generosidade de Deus, portanto, como, literalmente, um dom para si mesmo. Tanto Ulrich quanto Schindler incorporam essa compreensão criacional do ser como dom em uma estrutura cristológica mais abrangente, na verdade, trinitária. Schindler, por exemplo, vê o Filho como o dom-para-si arquetípico que, por meio de sua encarnação, assume e ancora a receptividade da criatura na própria vida divina. Ambos os autores insistem que, no próprio ato de se receber como dom, a pessoa já começou a dar graças por si mesma e, de fato, a se dar como dom dentro do gesto original de doação de Deus. A pessoa é um “agradecimento ontológico” (Ulrich) ordenado a dar e receber em comunhão. Para Ulrich, ver, Homo Abyssus , 2ed. (Freiburgo: Johannes Verlag, 1998); para Schindler, veja, além de numerosos artigos, David L. Schindler, Heart of the World , Center of the Church: Communio Ecclesiology, Liberalism, and Liberation (Grand Rapid, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1996). Kenneth Schmitz, em seu The Gift: Creation (Milwaukee, Wisc.: Marquette University Press, 1982), também oferece reflexões importantes sobre o tema do ser como dom.
- A subjetividade inclui uma interioridade real, é claro. A questão é simplesmente que a pessoa entra em sua verdadeira interioridade precisamente na medida em que não está “presa” nela. Ele é mais capaz de ter um ponto de vista quando pode ver as coisas do ponto de vista dos outros.
- É importante ver que a comunhão não é apenas fruto da liberdade, mas também sua matriz geradora. Eu não posso me dar a menos que eu receba a mim mesmo – e minha própria habilidade de me dar – de outro. É claro que o mesmo vale para o outro em relação a mim. Assim, nós dois devemos ser apanhados na comunhão para encontrar nossa liberdade, assim como a descoberta de nossa liberdade, no ato de dar e receber mútuo, simultaneamente traz nossa comunhão à existência. A comunhão pode ser tanto a matriz quanto o resultado de nossas liberdades, porque a própria comunhão é o desdobramento - do qual podemos participar - de Deus nos dando, não apenas nosso ser, mas também sua própria doação (que, portanto, pode ser recebida somente em um dar e receber mútuos que sua doação tanto provoca e, ao fazê-lo,
- “O interesse próprio não é egoísmo míope. É o que interessa aos participantes, seja o que for que eles valorizem, sejam quais forem os objetivos que perseguem” (Milton Friedman e Rose Friedman, Free to Choose [New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980], 27).
- Para ter certeza, não estou igualando a motivação do lucro com a ganância egoísta. Eu concedo como argumento a premissa liberal de que o lucro é a finalidade (impessoal) da atividade especificamente econômica em uma economia coordenada por preços. Isso, no entanto, é apenas o ponto: a economia liberal define a finalidade imanente da atividade especificamente econômica de tal forma que essa atividade não requer outra motivação além do lucro para sua inteligibilidade intrínseca. Não há, portanto, nenhuma razão estrutural, dada de dentro dessa própria inteligibilidade, para não ser ganancioso. O fato de que tais razões tenham de ser fornecidas de fora significa que, em princípio, elas não precisam realmente ser fornecidas de fora, em princípio, elas não precisam realmente ser fornecidas para que a economia funcione seus próprios termos. A moralidade é um extra — um extra desejável, talvez, mas ainda assim, afinal de contas. Neoconservadores como Novak insistirão, é claro, que o interesse próprio, entendido corretamente, está sempre embutido em uma complexa rede de relações que o impede de degenerar em mera busca egoísta de lucro. Invocando Adam Smith, Novak fala de “interesse próprio racional” como o julgamento objetivo e realista sobre o que é melhor para mim que eu faria se estivesse me contemplando da perspectiva de um terceiro imparcial (Michael Novak, O espírito do capitalismo democrático, 95). Mesmo admitindo a leitura benigna de Novak de Adam Smith, no entanto, o “interesse próprio racional” ainda não perturba a primazia da motivação do lucro, mas simplesmente a purga das inclinações irracionais e passionais cuja indulgência impediria o ator econômico de obter o lucro. objetivo da atividade econômica, ou seja, o lucro. Em vez de elevar o interesse próprio além da ganância privada, como Smith provavelmente pretendia, o conselho do espectador imparcial degenera em uma “prudência” mundana que recomenda a consideração pelos outros como a melhor ferramenta para alcançar o que continua sendo o objetivo principal, ou seja, lucro. A economia liberal, mesmo na melhor leitura, e apesar de suas melhores intenções, não pode deixar de transformar o lucro em um fim que justifica tudo precisamente porque, e na medida em que concebe o fim próprio da atividade econômica como separado de,
- Isso não quer dizer que o homem econômico seja movido principalmente pela paixão da ganância. Podemos discordar de muitos críticos de esquerda do capitalismo que dedicam considerável energia moral à denúncia dos motivos gananciosos da “corporação”. Curiosamente, mesmo Marx, que se considerava um cientista no modelo clássico, via a exploração como uma necessidade impessoal embutida na estrutura do capitalismo, e não como resultado da “ganância” por parte de capitalistas individuais. O principal motor do homo economicus é antes a necessidade de autojustificação devido ao fracasso em experimentar o caráter de dádiva de seu ser. Essa necessidade se traduz em uma espécie de escravidão ao trabalho, que pode ser acompanhada por um certo ascetismo distante da ganância. Nessa perspectiva, o dinheiro é apenas um símbolo da “fecundidade” do trabalho e do valor que essa fecundidade deveria conferir. Devemos também distinguir a escravidão do homem econômico ao trabalho do genuíno impulso criativo visto em muitos empreendedores de sucesso. Por outro lado, eu argumentaria que a lógica da economia liberal distorce a criatividade empreendedora na direção da escravidão do trabalho do homo economicus .
- Para esclarecer esse ponto, recomendo os seguintes experimentos mentais: suponha que a Califórnia anunciasse sua intenção de cobrar tarifas sobre as importações de todos os outros estados da união. Alguém imagina seriamente que, se a Califórnia não respondesse à sua persuasão, o governo federal não forçaria a revogação das tarifas, por meios militares, se necessário? Pode-se objetar, é claro, que estou realmente falando da ilegalidade constitucional da secessão. Esta objeção perde o ponto. De fato, o próprio fato de que a adoção de tarifas de importação pela Califórnia seria equivalente a um ato de secessão reforça minha afirmação de que o chamado mercado livre é entendido como um mercado nacional policiado pelo estado-nação, neste caso, o governo federal de os Estados Unidos. Esse poder de polícia dá ao Estado influência sobre as unidades econômicas locais – uma vantagem, podemos acrescentar, que entidades econômicas translocais, como as corporações, muitas vezes podem influenciar em sua vantagem por causa de sua influência financeira desproporcional. Grandes empresas e grandes governos são aliados naturais.
- Sobre este ponto importante, veja o capítulo 12 (“O Nascimento do Credo Liberal”) de A Grande Transformação de Karl Polyani.
- Este ponto merece destaque. Não estou opondo o prazer repousante da própria existência à produtividade tout court, mas apenas à (pseudo-) produtividade doentia que cada vez mais domina nossa cultura. O prazer repousante da própria existência é uma atitude que, pelo menos em princípio, pode permear tudo o que fazemos. Isso significa que mesmo nossa atividade produtiva pode ser uma expressão, uma espécie de transbordamento fecundo, do gozo agradecido do dom de nosso próprio ser em comunhão. Esse tipo de produtividade é, a longo prazo, mais produtivo do que o tipo que domina nossa cultura. Como todos sabemos por experiência, as pessoas que trabalham sob pressão para produzir resultados rápidos podem fazer muito no início, mas acabam se desgastando. Só uma produtividade que coincide com o transbordamento fecundo do gozo do próprio ser em comunhão pode sustentar-se a longo prazo. Não estou argumentando, é claro, que podemos escapar inteiramente da pressão para produzir. Meu ponto é simplesmente que a pressão para produzir não pode se tornar um modo de vida, como aconteceu em nossa cultura, sem mudar profundamente e diminuir a qualidade da própria produtividade.
- Para uma discussão fascinante deste problema com referência especial à profissão de advogado, veja M. Cathleen Kaveny, “Living the Fullness of Ordinary Time: A Theological Critique of the Instrumentization of Time in Professional Life”, in Communio 2001 (4): 771 -819. Como enfatizei na nota 13, não pretendo identificar a escravidão do trabalho autojustificativa com a criatividade genuína que muitas vezes impulsiona os empreendedores, embora argumentasse que apenas uma economia da dádiva pode interpretar e apoiar adequadamente essa criatividade.
- Poderíamos fazer o mesmo em termos da “lei da oferta e demanda”. O valor econômico, diz-nos a economia liberal, não é uma propriedade inerente às coisas independentemente das trocas de mercado. O valor econômico é, em última análise, um resultado variável (embora não, em regra, muito variável) resultado dessas próprias trocas. É o resultado da interação entre oferta e demanda. Embora os economistas liberais falem da interação entre oferta e demanda como um evento impessoal, na realidade, trata-se de um evento altamente pessoal. É verdade que há uma certa necessidade impessoal na interação entre oferta e demanda; dada uma superabundância de tênis em relação à demanda por botas, por exemplo, o preço do tênis tenderá de fato a cair sem qualquer esforço conjunto por parte dos consumidores. Mas os termos “oferta” e “demanda” são, em última análise, uma mera abreviação para falar sobre padrões de julgamentos de que vale a pena fazer, vender ou comprar tal e tal item. As determinações do valor econômico são guiadas não por “leis impessoais do mercado”, mas por conjuntos de valores de produtores, vendedores e compradores. Esses valores são inevitáveis e refletem julgamentos sobre a natureza da pessoa e sua existência. Esses julgamentos podem estar errados, mas não deixam de ser julgamentos, não forças impessoais. Ora, falar da natureza e do valor da existência humana é falar de riqueza ontológica. Assim, mesmo a economia liberal, apesar de todas as suas profissões de que é livre de valores, não pode escapar de julgamentos sobre a riqueza ontológica, mesmo que oculte esses julgamentos sob o pretexto de uma “neutralidade” supostamente livre de valores. Isto, portanto, torna-se perfeitamente legítimo perguntar até que ponto a teoria liberal realmente reflete os verdadeiros requisitos da riqueza ontológica da maneira como normalmente calcula o valor econômico. Quero sugerir a seguir que a resposta deve ser “não muito bem”.
- A degradação da qualidade torna-se aparente quando o item produzido é uma versão reconhecível, mas inferior, de um item que normalmente associamos à boa qualidade. Considere o Twinkie. Poucos leitores irão contestar minha afirmação de que os Twinkies têm um gosto pior do que, digamos, bolos caseiros. Também está claro que os Twinkies têm um sabor pior do que os bolos caseiros porque não são tão bem feitos quanto os bolos caseiros. Observe, no entanto, que os Twinkies não podem ser tão bem feitos quanto os bolos caseiros. Eles não podem ser porque são feitos com uma coisa em mente: compra e consumo convenientes. A obtenção de tal conveniência, condição sine qua non do sucesso de vender mais barato, exige que a produção do Twinkie seja abstraída o máximo possível de toda uma série de considerações, como qualidade dos ingredientes, nutrição, convívio e semelhante.
- É certo que os empresários mais bem-sucedidos são bem-sucedidos porque não se deixaram cegar por uma obsessão pelo lucro acima de tudo. Mas isso, de certa forma, é apenas o meu ponto: a sábia autocontenção que esses empresários demonstram não deriva dos princípios básicos da economia liberal, que, de fato, tendem por sua lógica interna a solapá-la.
- Não estou negando, é claro, que as economias liberais produzem uma abundância de bens baratos. O que quero dizer é que essa conquista não é um índice confiável de saúde econômica. A razão para essa falta de confiabilidade, estou argumentando, é que os produtos baratos em questão são baratos apenas para o consumidor individual no momento da compra, mas não para a sociedade como um todo. O próprio processo de criar uma abundância de bens baratos para consumidores individuais no momento da compra – produção em massa alimentada pelo imperativo de vender mais barato – inevitavelmente causa efeitos colaterais negativos. Pense, por exemplo, na poluição causada pelo (antes rotineiro) despejo de produtos químicos tóxicos em cursos d'água: o custo dos procedimentos de limpeza pode chegar a vários milhões. Agora, alguém em algum lugar - geralmente os contribuintes - eventualmente tem que arcar com o custo de lidar com esses efeitos colaterais. E o custo não é metafórico, mas real, calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam pelos bens nas lojas. A pergunta que devemos fazer, então, é: se uma economia que compra ganhos minúsculos ao custo de perdas líquidas pode ser considerada sã, se por “sã” queremos dizer “confortável para as exigências do bom senso econômico” e não apenas “bom em aumentar o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom em aumentar os lucros induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos?” calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam pelos bens nas lojas. A pergunta que devemos fazer, então, é: se uma economia que compra ganhos minúsculos ao custo de perdas líquidas pode ser considerada sã, se por “sã” queremos dizer “confortável para as exigências do bom senso econômico” e não apenas “bom em aumentar o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom em aumentar os lucros induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos?” calculável em dólares e centavos reais. Bens cuja produção envolve tais custos parecem ser “baratos”, então, apenas porque esses custos não são refletidos no que os consumidores pagam pelos bens nas lojas. A pergunta que devemos fazer, então, é: se uma economia que compra ganhos minúsculos ao custo de perdas líquidas pode ser considerada sã, se por “sã” queremos dizer “confortável para as exigências do bom senso econômico” e não apenas “bom em aumentar o volume de trocas entre produtores e consumidores”, ou, o que é o mesmo, “bom em aumentar os lucros induzindo mais pessoas a comprar mais produtos ditos baratos?”
- Wendell Berry, “Two Economies”, em Home Economics: Fourteen Essays por Wendell Berry (Nova York: Northpoint Press, 1987), 54-75; aqui, 71
- Wendell Berry, “Christianity and the Survival of Creation”, em Sex, Economy, Freedom, and Community (Nova York; San Francisco: Pantheon Books, 1992-1993), 93-116; aqui, 108f.
- Alexander Schmemann, The Journals of Father Alexander Schmemann (Crestwood, NY: Saint Vladimir's Seminary Press, 2001), 122.














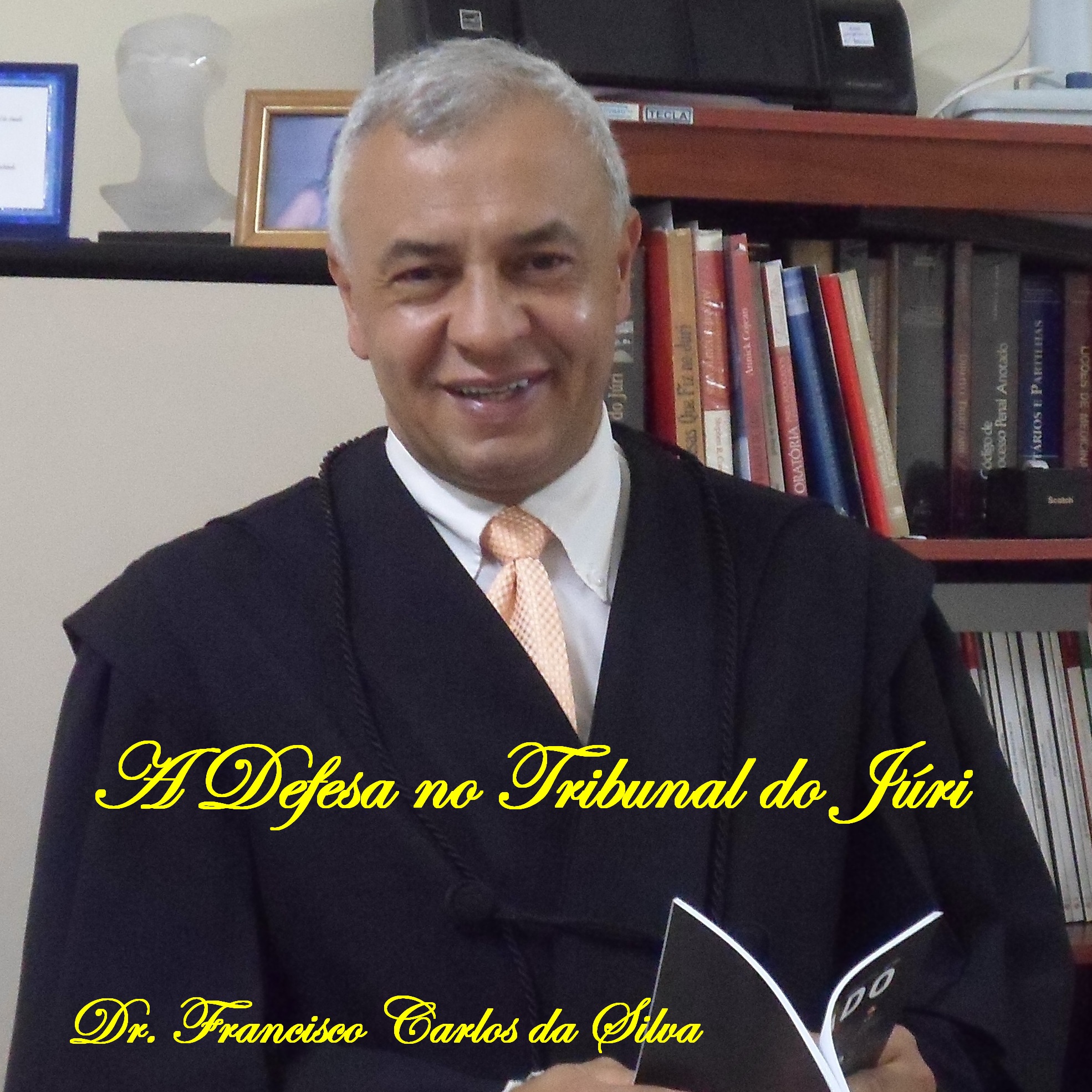





Nenhum comentário:
Postar um comentário